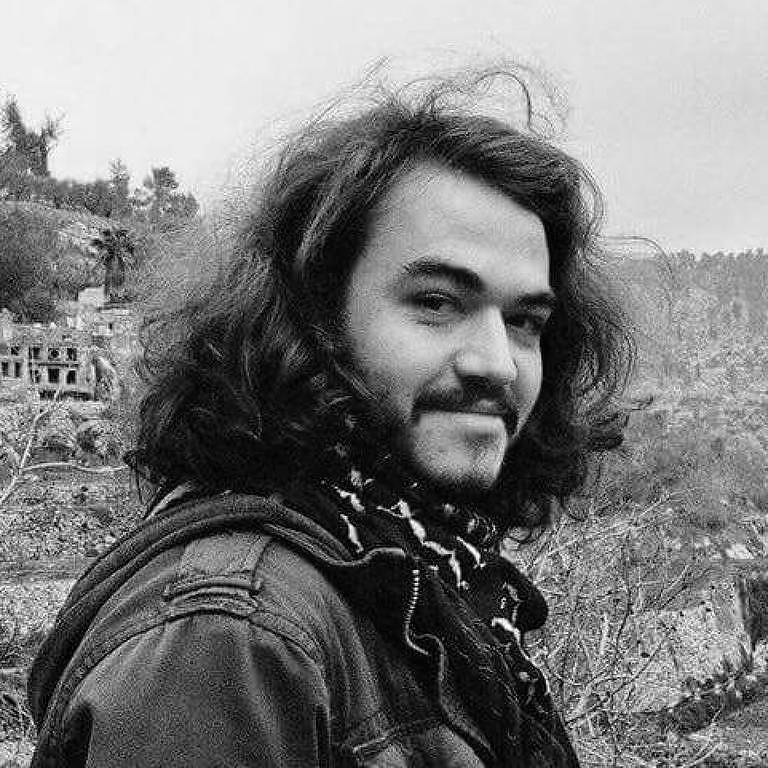Saiba o que é intervenção militar, cogitada como solução para a Venezuela
Diante do agravamento da crise humanitária na Venezuela, atores internacionais passaram a cogitar uma intervenção militar para derrubar o ditador Nicolás Maduro e restabelecer a ordem no país.
Com a economia em estado crítico, a Venezuela enfrenta o desabastecimento de alimentos e medicamentos. A situação levou 2,3 milhões de pessoas, cerca de 5% da população, a fugir do país desde 2014.
No fim de semana, o secretário-geral da OEA (Organização dos Estados Americanos), Luis Almagro, afirmou que não se deve descartar a via da “intervenção militar” para pôr fim às violações dos direitos humanos promovidas pelo regime chavista –a ideia foi rejeitada por muitos países da região, mas recebeu o respaldo do embaixador da Colômbia em Washington. Além disso, recentemente se noticiou que o governo dos Estados Unidos se reuniu com militares venezuelanos para debater um possível golpe no país.
Mas, afinal, o que é uma intervenção militar?

Intervenção é uma prática comum nas relações internacionais
O uso da força para interferir nos assuntos internos de outros países é uma prática comum nas relações internacionais, mas carrega consigo uma tensão permanente com o princípio da soberania. Se os Estados têm liberdade para fazer o que quiserem dentro de suas fronteiras, o que justificaria o direito de um Estado interferir em outro?
Historicamente, o direito à intervenção é invocado por Estados para coibir situações que veem como ameaças à segurança nacional ou à ordem internacional. Entretanto, a definição dessas ameaças muitas vezes está aberta a interpretações, de modo que o princípio da autodeterminação costuma prevalecer sobre o direito à intervenção.
Desse modo, o entendimento em torno do direito à intervenção evoluiu, limitando a possibilidade do uso da força a situações específicas. Após o fim da Segunda Guerra (1939-1945) e o trauma do Holocausto, criou-se um consenso de que o princípio da soberania não significa que um Estado pode maltratar sua população. Assim, a proteção dos direitos humanos passou ser uma justificativa plausível para intervenções.

Exemplos de intervenção humanitária
O tema da intervenção humanitária passou a ocupar um lugar de destaque na agenda internacional a partir dos anos 1990. Com o fim da Guerra Fria, o temor de uma guerra nuclear iminente deu lugar à preocupação com crises humanitárias ao redor do globo, levando as potências mundiais a intervirem em diferentes países com a justificativa de proteger civis.
Com maior ou menor grau de sucesso, intervenções humanitárias ocorreram no Curdistão iraquiano (1991), na Somália (1992-95), na Bósnia (1992-95), em Ruanda (1994), no Haiti (1994) e no Kosovo (1999). Essas experiências ajudaram a requalificar o conceito de soberania em favor da necessidade de prevenir violações massivas dos direitos humanos.
Após os atentados de 11 de setembro de 2001, a prática da intervenção humanitária entrou em declínio, dando lugar à doutrina da guerra ao terror. Na visão das grandes potências, o terrorismo era uma ameaça muito maior à segurança internacional do que as violações de direitos humanos. Assim se deram as invasões dos Estados Unidos ao Afeganistão, em 2001, e ao Iraque, em 2003 –a administração de George W. Bush até tentou convencer outros países que a derrubada do ditador Saddam Hussein levaria à proteção de civis, mas as tais armas de destruição em massa do ditador iraquiano nunca foram encontradas.

O conceito de “responsabilidade de proteger”
Apesar do declínio da prática da intervenção humanitária nos anos 2000, a comunidade internacional aprofundou a definição jurídica sobre a intervenção. Em 2005, os países membros da ONU (Organização das Nações Unidas) adotaram, por consenso, o paradigma da “responsabilidade de proteger” (responsability to protect, ou R2P).
O princípio do R2P estabelece uma série de responsabilidades compartilhadas por atores nacionais e internacionais a fim de proteger populações de genocídio, limpeza étnica e outros crimes contra a humanidade. Quando um Estado falhasse em respeitar os direitos humanos de sua população, caberia à comunidade internacional intervir por meio de ação multilateral. Assim, o Conselho de Segurança da ONU poderia autorizar intervenções humanitárias em resposta a situações em que houvesse “ameaça à paz, violação da paz ou atos de agressão”.
Sob o manto do R2P, a ONU autorizou intervenções humanitárias em resposta à novos conflitos na África Subsaariana e nos países atingidos pela Primavera Árabe. Tropas internacionais foram enviadas para países como Costa do Marfim (2011), Líbia (2011) e Mali (2012–13) –a intervenção da Otan (aliança militar ocidental) na Líbia, no entanto, foi criticada por causar mais sofrimento à população local e por servir de pretexto para a derrubada do ditador Muammar Gaddafi, violando o mandato concedido pela ONU.
Dessa forma, pode-se dizer que o debate sobre a intervenção militar evoluiu nas últimas décadas no sentido de criar mecanismos institucionais para proteger populações em risco e de fortalecer a autoridade dos Estados nacionais como meio de promover os direitos humanos. No entanto, a institucionalização da intervenção humanitária por meio da adoção do R2P não garante o sucesso de operações de paz, como atesta a experiência da Líbia, nem oferece segurança para todos os civis em risco, vide a inação da comunidade internacional diante da guerra civil na Síria e da limpeza étnica da minoria rohingya em Mianmar.
Como fica a Venezuela?
A opção pela intervenção militar para resolver a situação na Venezuela, ventilada pelo secretário-geral da OEA, enfrentaria uma série de obstáculos.
Em primeiro lugar, seria necessário identificar no regime de Nicolás Maduro uma clara ameaça à segurança internacional. Além disso, para que ocorra na legalidade, segundo o princípio do R2P, uma eventual intervenção precisaria ser aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. Por fim, o rechaço do Grupo de Lima –composto por 11 países da região, incluindo o Brasil— à declaração de Almagro sinaliza a falta de disposição de atores relevantes em embarcar em uma ação multilateral.